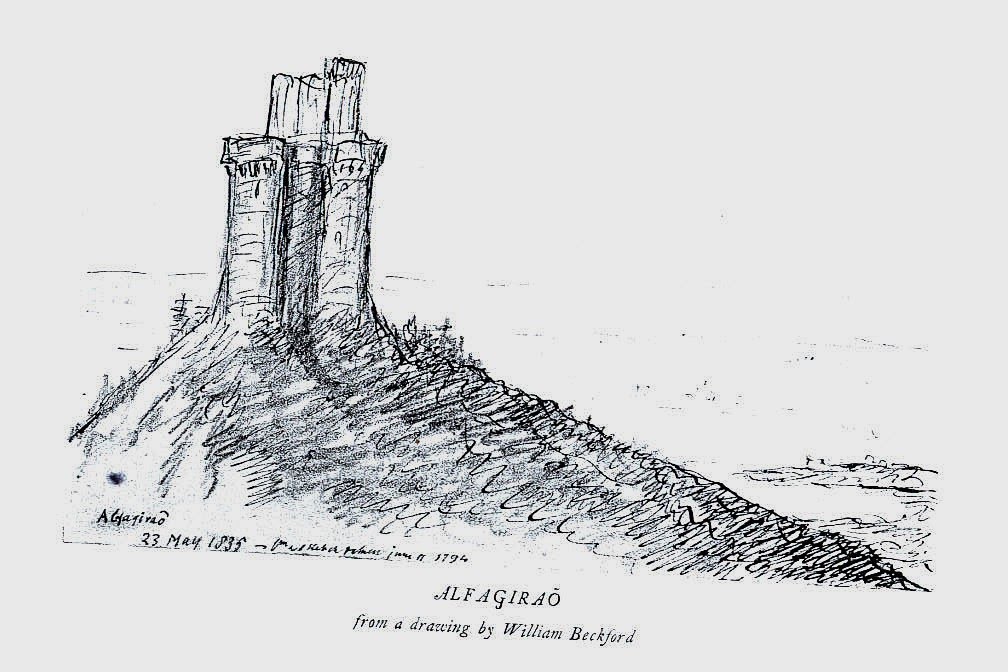No ano de 1987, o meu pai, António Justino Coutinho,
entrevistou um nonagenário do lugar da Macalhona, freguesia de Alfeizerão, que
se chamava António Faustino Júnior. Esse ancião, com uma lucidez admirável e um
grande senso de humor, evocou os seus tempos de juventude, o trabalho na Quinta
do Fróis, a tropa em Lisboa, a morte do Sidónio Pais - delineando um conjunto
de quadros evocativos que merecem ser resgatados do esquecimento dos arquivos e
colocados á disposição de todos.
A entrevista foi publicada no jornal O Alcoa, de Alcobaça. Era (e continua a ser) um texto extenso que o jornal foi
publicando como podia, em frações, do número 1654 do jornal (de 9 de Abril
desse ano) ao número 1662 (de 30 de Junho). No final, creio que poucas pessoas
tenham lido a entrevista na íntegra, o que a desvalorizava bastante.
Na altura, auxiliei o meu pai na entrevista, gravando a
entrevista e transcrevendo o material, que datilografei numa (saudosa) máquina
Olivetti. Foi a partir desse texto datilografado que compus a entrevista que a
seguir se apresenta. Fiz algum trabalho de edição, mínimo, mudando a ordem de algumas
perguntas para conseguir um texto mais uniforme, mas mantive-me fiel ao teor das
perguntas e respostas. Também adicionei algumas notas, as estritamente
necessárias.
ENTREVISTA A UM NONAGENÁRIO DA MACALHONA
- Por A. Coutinho
António Coutinho:
Qual é o seu nome completo e em que ano nasceu?
A.F.J.: António Faustino Júnior, e nasci no ano de 1896.
A.C.: E o mês?
Lembra-se?
A.F.J.: Lembro, Abril, 23 de Abril.
A.C.: Nasceu aqui na
Macalhona?
A.F.J.: Nasci sim.
A.C.: Até o senhor ir
para a tropa. Como é que foi a sua vida?
A.F.J.: A minha vida era de trabalhador nos campos. E
naquele tempo era assim um bocado duro; para se ganhar um diazito tinha de ir
para Alfeizerão, para um Vitorino que lá havia.
A.C.; O Vitorino
Fróis?
A.F.J.: Sim, esse mesmo. O senhor lembra-se dele?
Conheceu-o?
A:C.: Não, conheço-o
só de nome…
A.F.J.: Esse homem tinha uma Quinta valente, ali em
Alfeizerão, mas agora aquilo já não é o que era, acho que os filhos até já
venderam aquilo. Então, eu fui por ali criado, por Alfeizerão, por aquelas
Quintas; assim como eu, naquele tempo, ia para a Quinta do Vitorino ganhar um
tostão…um tostão, dez réis, cinco réis…Aquilo era uma vida…
A.C.: E davam
alimentação?
A.F.J.: Não, senhor, não davam
nada!
A.C.: Tinham de ir aviados…
A.F.J.: A primeira vez que eu fui,
tinha doze ou treze anos, fui daqui de casa com uma broazita de milho, toda
bolorenta. O meu falecido pai, que foi embarcadiço muito ano e nunca se
aguentou cá nisto da lavoura, não dava para isto, então, quando eu era pequeno,
tinha os meus dez ou onze anos, e ele começou a dizer-me: “Tu vai-me é lá para
as Quintas!”. E eu respondia: “Não vou nada, eu tenho medo!”. E ele ia levar-me
até ali onde era o cruzamento para Alfeizerão, e quando começava assim a querer
amanhecer, começavam a vir mais homens e eu ia para a Quinta mais eles; e á
noite voltava para trás, vinha para casa, e tinha ganho um tostão.
«No Sábado aquilo juntava noventa,
cem pessoas, havia três capatazes, mais um feitor, que era de S. Martinho, que
era um chamado Baptista; e juntavam-se ali todos para se pagar; e aquilo com uns
mil réis pagava-se quase aquilo tudo. Punham num sítio um montinho de dinheiro,
por exemplo, para seis pessoas ou sete, e ia uma moeda para um, três moedas
para outro, tudo divididinho que era uma beleza. Eu vi aquilo tão pouco…o
Vitorino Fróis estava lá, sentado numa cadeira, um pouco desviado. E depois, o
Baptista disse-me: “Toma lá, rapaz!”. E eu vi cinco tostões, e com um tostão mesmo
ao lado, que eram seis tostões, bem, eu vi aquilo tão pouco e agarrei o
montinho com os cinco tostões, vai assim o Baptista e dá-me uma palmadita nas
mãos – “Larga isso, rapaz, que isso não é para ti”. E o Vitorino começou-se a
rir, e eu fiquei assim muito envergonhado, e disse ao Baptista: “Eu julgava que
aquele dinheiro era para mim…”. E ele: “Não, rapaz, isso não é para ti!”.
«E depois, fomos todos assim
criados, mas era uma vida muito…esquisita. Aquele que não tivesse trabalho ao nascer-do-Sol,
o capataz descontava um quartel, e mandava sentar a gente até ao almoço. Bem,
certa vez, fui mais tarde, cheguei lá e o capataz começou-se a rir, era o José
da Conceição, um tipo muito forte que vivia ali no sítio da Caldeira, ali
quando se vai para S. Martinho, vivia ali e ainda há uns poucos de anos o
encontrei em Óbidos. E diz ele assim para mim, ainda a rir: “agora vais
descansar um bocadinho até ao almoço!”. E eu ia todo molhado de andar por essas
matas abaixo da Macalhona até Alfeizerão, molhado e com frio. E por ali andei
até ao almoço. Passou-se isto a um Sábado, e eu não tinha comido nada, nem
tinha nada para comer e, quando acabasse a hora de almoço, tinha de me levantar
para ir trabalhar, e não ganhava senão três quartéis. Ora, eu ganhava um tostão,
diga-me então o senhor, quanto é que eu levava dali? Mas, naquele dia, quando
eram umas onze horas, os capatazes juntaram o pessoal todo com ordem de pagar o
dia a todos, porque morrera a mãe do Fróis. E foi assim que ganhei o dia. Se a
mãe não lhe morre, lá se ia o meu quartel…
A.C.: E, na Quinta do Fróis, criava-se muito gado bravo, não é?
A.F.J.: Criava-se sim. Eu tive um
tio, que era meu tio e meu padrinho, que era moço de forcados, e esse meu tio
ensinou um boi bravo a ir comer á mesa do Vitorino Fróis.
A.C.: E como é que se chamava esse seu tio?
A.F.J.: António Vinagre, e morava
no Casal da Ponte. Ele foi moiral do Vitorino durante uns trinta anos. Eu ia lá
muita vez ter com ele. Um dia em que eu estava numa cabana com esse meu tio, os
bois, quando me viram chegar, largaram-se todos de volta da cabana, e eu já
estava enrascado de estar lá dentro. E dizia-lhe: “Ó tio, que eles matam a
gente!”, e o meu tio respondeu: “Não matam nada!”. Ele chegou lá fora, falou
com os bois, e os bois recuaram mas, quando ele se calava, os bois iam outra
vez para perto. Como eu tinha medo, o meu tio ensinou-me a sair dali. Eu ia
mais o meu tio com um braçado de maçarocas, e ia dando maçarocas aos bois de
cada vez que eles estavam perto; e lá fui andando até estar longe. E também foi
assim que o meu tio António ensinou um boi bravo, um touro dos grandes, a tirar
maçarocas de milho da mão dele, e foi indo, foi indo, que conseguiu levar esse
touro até á mesa do Vitorino. A mesa era uma mesa grande, o senhor Vitorino
estava a comer de um lado da mesa, e na outra ponta da mesa estava uma
gamelazita com favas. O touro foi até lá, entrou na sala, comeu as favas,
recuou e foi-se embora sem fazer mal a ninguém. Depois, quando eram quatro
horas da manhã, mais coisa, menos coisa, esse touro ia raspar á porta da casa
do Vitorino. Abriam-lhe a porta, ele entrava, comia as favas, que tinham a
jeito, e ia-se embora outra vez.
A.C.: As pessoas falam muito das ferras de gado que havia na Quinta do
Vitorino. Como é que eram essas ferras?
A.F.J.: Eles tinham lá um curro e,
quando era aos Domingos, levava-se para lá um boi, dois, três, e quem queria,
ia ver, e quem quisesse, podia ir lá para dentro para tentar agarrar o boi.
Eram tourozitos de dois, três anos, não eram touros grandes mas, mesmo assim,
marravam bem. E as pessoas ficavam ali a ver, e riam-se muito.
«Uma vez, pediram ao senhor
Vitorino uma tourada para Espanha, e ele levou para lá o gado. E, naquele
tempo, as pessoas da realeza iam todas assistir às touradas. Nessa tourada em
Espanha, mandaram sair o primeiro boi, um dos bois do senhor Vitorino, mas o
boi não marrava, raspava no chão com o casco mas não marrava. E depois, o povo
começou a gritar: “Levem os bois para o campo, os bois são bons é para semear
milho, não marram nada!”. O Vitorino estava cá fora, aquilo era um tipo que só
quem conheceu aquele homem é que sabe o génio que ele tinha. O Vitorino salta
para a arena e desafia o touro, e o touro investe nele, e o Vitorino, que era
um homenzarrão, agarra-se bem ao touro, brigaram ali os dois, sem o Vitorino
largar a sua cabeça, até que o touro ficou parado no meio da arena, com o
Vitorino abraçado ao pescoço. Aquilo foram palmas e palmas, e aqueles espanhóis
gritavam de pé. Só então os moços de forcados acudiram e agarraram o boi, de
jeito que o senhor Vitorino o pôde largar. Os espanhóis continuam a bater
palmas, e o Vitorino manda meter o boi no curro, meteram lá o boi, e ele pega
em duas lancetas e manda atar uma na ponta de cada corno do boi. O boi é solto
na arena e, quando viram o boi naqueles preparos, não ficou ninguém na arena e
estava tudo calado, não se ouvia ninguém. O senhor Vitorino entra na arena e
chama o boi, e quando o boi investe e está quase a chegar a ele, vira as costas
ao boi de modo que as duas lancetas lhe passam ao lados das costas, e ele ficou
no meio delas, agarrado á cabeça do touro. Aquilo foram palmas e palmas, e os
espanhóis não sabiam o que fazer ao senhor Vitorino. O boi foi recolhido lá
para dentro e o Vitorino ficou no meio da arena. D. Manuel, que era o rei de
Portugal naquele tempo, desceu lá de cima e foi para a arena com outra pessoa
real; e o rei cruzou os braços sobre o senhor Vitorino. E as pessoas reais
disseram-lhe para ir jantar com eles, porque D. Manuel, nesse tempo, ainda não
tinha conhecimento algum com o senhor Vitorino.
«Quando chegou a hora desse jantar,
os espanhóis envenenaram os pratos, talheres e copos do senhor Vitorino. Mas
houve um espanhol, lá por alguma intervenção, que avisou o Vitorino quando ele
se sentou á mesa, participou-lhe para que ele não comesse nem bebesse nada
daquilo que estava diante dele, e o Vitorino pediu licença às pessoas reais,
disse que não se sentia bem, e saiu. Tinham envenenado a comida do Vitorino
porque nunca nenhum espanhol tinha conseguido fazer o que ele fez, e aquilo era
uma vergonha para eles. O Vitorino safou-se, e esse espanhol que o salvou, foi
ali para a Quinta do Vitorino, e viveu ali até morrer, comia e bebia, passeava
e divertia-se como ele queria. É que o senhor Vitorino nunca esqueceu que, se
não é ele a falar, tinha morrido em Espanha.
«O senhor Vitorino tinha dois
filhos, um era o Vitorino e, o outro, José Vitorino. Um estava casado com uma
espanhola, era o José, e o Vitorino estava casado com a filha de um cônsul. Foi
a Casa do Povo de Alfeizerão feita onde ela está hoje, e os dois filhos do
Vitorino assistiram a uma grande reunião que houve quando foi feito o pavilhão,
e o padre João Vieira disse ali que a Casa do Povo era um grande benefício para
Alfeizerão, e esse José Vitorino, quando calhou a vez dele falar, disse que a
Casa do Povo não lhe valia para nada, só valia para lhe levar dez contos de
réis por mês para ajudar a Casa do Povo. Que aquele povo todo ficou calado, que
não sabia o que dizer.
«O rei D. Manuel foi padrinho dos
dois filhos do Fróis; é que o rei, depois de ficar a conhecer o Vitorino, ia
ali muitas vezes à Quinta, mais a rainha. E esse meu tio que eu lá tinha, o
António Vinagre, estava sempre a par de tudo por ali, e contou-me uma coisa que
por ali se passou. O Vitorino, certa vez, fez uma espécie de petisco para o rei
com comidas e bebidas. Estavam todos assim num pinhal, e havia lá um pinheiro
derreado, todo inclinado. E o senhor Vitorino tinha lá uma cadelita de que ele
gostava muito e que tinha as patas viradas para fora, e o rei D. Manuel achava
muita graça áquilo e ria-se muito da cadela, e o Vitorino disse-lhe: “Esta
minha cadela é aleijada, mas é capaz de subir por esse tronco até ao cimo do
pinheiro”. Mas o rei não acreditou e respondeu: “Só se for alguém a levá-la!”.
E o Vitorino pegou na cadela, levou-a até ao pinheiro e mandou-a subir. A
cadela foi subindo, muito devagar, muito devagar, e quando chegou mais ou menos
a meio do pinheiro, parou e olhou cá para baixo. E D. Manuel teve pena dela, e
disse assim para o Vitorino: “A cadela, se cai dali, morre na certa…”. Mas o
Vitorino disse para a cadela: “Vá, segue para cima!”. E a cadela voltou a
subir, e foi andando que chegou á pontinha do pinheiro; e diz o rei para o
Vitorino: “Compadre, o que você foi fazer? A cadela agora cai cá em baixo e
morre de certeza”. Mas o Vitorino respondeu-lhe: “Não morre nada!”, e chamou a
cadela, e ela virou-se lá em cima e vem a descer pelo pinheiro até que chegou
ao pé deles. E o rei bateu muitas palmas e os dois deram muitas risadas.
«No fim de contas conheci muito bem
o senhor Vitorino, e conheci a Quinta dele. E o senhor Vitorino era um tipo
muito bom, nunca castigava ninguém. Ele tinha guardas, tinha feitores e
capatazes, e chegavam às vezes ao pé dele e diziam: “Ó senhor Vitorino, andou
em tal parte, quatro vacas nos seus campos”, e logo ele dizia: “Deixem lá,
amanhã já cresce mais pasto”. Outra vez, vinham ter com ele a queixar-se: “Ó
senhor Vitorino, andou um rol de mulheres a cortar lenha no seu pinhal”, e o
Vitorino perguntava-lhes: “Elas cortaram os pinheiros todos?” – e logo eles: “Não, senhor Vitorino, mas aquilo
é um estrago”. E o Vitorino dizia então: “Deixem estar, temos tantos pinheiros,
e eu também não os gasto a todos!”.
«Era mesmo um bom homem. Uma
criatura que pedisse um favor àquele homem, ele fazia-o logo. Ao meu pai, foi
tirá-lo da tropa. Foi daqui para Leiria a cavalo, chegou lá á noitinha e a
sentinela que estava lá no posto, não o queria deixar entrar; e ele diz á
sentinela, com aquela voz que ele tinha: “Abre lá o portãozito, ó rapaz!”. A
sentinela teve-lhe respeito e abriu o
portão. E lá dentro, o Vitorino falou com os oficiais, que já o conheciam, e o
Vitorino disse-lhes que ia lá buscar um rapaz do Casal Pardo - o rapaz era o
meu pai – e conta-lhes que o pai desse rapaz tinha morrido há pouco tempo, e
ele só tinha a mãe e o avô, e que o avô tinha quinze vacas de alfeiría [i],quatro
bois de trabalho e cento e tal ovelhas, e que o avô desse rapaz era já de idade
e não podia guardar todo aquele gado, nem tinha quem o guardasse. Por isso, a
mãe do rapaz tinha-lhe pedido para tirar o filho da tropa. E os oficiais
fizeram a vontade ao Vitorino, e deixaram o meu pai vir embora. Diz-lhe assim o
Vitorino: “Monta-te nesse cavalo e leva-o para a Quinta, e depois vai ter á
casa da tua mãe, que ela precisa de ti. E se alguém te perguntar para onde vais
com um cavalo desses ou com ordem de quem, eles que leiam o que está escrito
nessa manta!”. A manta que o Vitorino falava era aquela que ia por cima dos
arreios do cavalo, e que tinha lá escrito o nome do meu pai, o nome do
Vitorino, e o destino que o Vitorino dera àquele cavalo. O Vitorino era mesmo
bom homem.
A.C.: E, sem ser com o Vitorino, nunca lá teve chatices na Quinta?
A.F.J.: Tive sim, apanha-se de tudo
em todo o lado. Numa ocasião, estavam uns doze homens de Vale de Maceira a
trabalhar na Quinta do senhor Vitorino, trabalhavam com máquinas de pulverizar.
E havia lá no meio deles, um tipo de Vale de Maceira que aquilo, aquilo era um
malandrão. Chamava-se José. Quando eu ia a botar água na máquina dele – nós
andávamos, um cachopo por cada máquina, a acartar água – ele, punha a máquina
no chão, e eu tirava a tampa e vazava a água lá para dentro. Se caísse um só
pingo para fora, um pingo mais pequeno que a metade da minha unha, ele não me
dizia nada mas tirava-me o barrete e limpava a máquina toda com ele. E eu,
claro, não dizia nada, mas aquilo fazia-me uns nervos…O tempo foi passando e,
um dia, era eu já um homem, e vinha das Caldas a pé com uns vizinhos meus, e
paramos numa taberna em Vale Maceira, e quando eu entrei na taberna, lá estava
ele, e eu pensei para comigo: “Hoje é que tens que apanhar!”. Cheguei ao pé
dele e perguntei-lhe se ele estava bem. “Eu não o conheço!”, diz-me ele, mas eu
respondi: “Mas olhe que eu conheço-o bem a si, senhor José. O senhor lembra-se
de quando me tirava o barrete para limpar a máquina de pulverizar, lá na Quinta
do senhor Vitorino? Hoje é que o senhor haveria de me tirar o barrete para
limpar a máquina!”. E cheguei-me para perto dele, estava mesmo com vontade de
lhe arrear naquele dia, mas ele agachou-se, muito agachadinho, e só dizia: “Ah,
eu não me lembro! Não me lembro!”. Então, eu disse-lhe: “Vá-se embora, que
homens como você acabam sempre por pagá-las todas!”.
A.C.: E lembra-se de mais alguma coisa sobre a Quinta do Vitorino, que
gostasse de contar?
A.F.J.: O aeroplano, o primeiro
aeroplano que veio para o nosso sítio foi um que pousou na Quinta do senhor
Vitorino. Pousou no campo dele, lá em baixo. Aquilo era uma admiração, aquela
coisa no ar, e todo o povo desta região, de Alfeizerão, dos Casais Norte, de
Vale Maceira, Macarca…este povo foi todo para lá e aquele campo estava cheio de
gente. E, quem queria, podia andar no aeroplano, ia uma pessoa de cada vez,
pagava quinze tostões e ia dar uma volta no aeroplano, que aquilo também não ia
muito longe. Eu não fui lá, não fui e não tenho pena nenhuma disso, porque aquilo,
no ar, não era coisa para mim.
«Afinal, estávamos lá todos, e
chegou o senhor Vitorino, chegou numa charrete com cocheiro. Vai-se a ver,
estavam lá dois guardas que eram de S. Martinho, e atravessaram-se à frente dos
cavalos e disseram ao cocheiro que voltasse para trás e tomasse outro caminho.
E o Vitorino disse ao cocheiro: “Não segues, porquê? Anda-me com esses cavalos
para a frente!”. Mas os guardas não saíam da frente da charrete, e o Vitorino
gritou: “Siga com esses cavalos para a frente!”. O cocheiro tocou os cavalos, e
estes galgaram para a frente, e os dois guardas tiveram de saltar para o lado
para não ficar debaixo deles. Depois, o Vitorino, ao fim de estar um pouco mais
adiante, mandou o cocheiro parar a charrete, e disse para os guardas: “Então
vocês é que me queriam impedir de passar por aquilo que é meu, e pelo caminho
que eu quero?! Eu é que vos ponho para fora daquilo que é meu!”. E disse-o com
todo aquele povo a ouvir. Os guardas taparam-se como dois pardalinhos bem tapados,
e o Vitorino não disse mais nada.
A.C.: E o senhor Faustino teve instrução? Foi á escola?
A.F.J.: Eu andei na escola, mas
tinha já uns dezoito anos, ou vinte. Eram rapazes e raparigas, e elas
vadiavam-se muito bem. Depois íamos namorar e andávamos ali agarrados às
raparigas. Mas ainda aprendi alguma coisa na escola, ainda lá apanhei qualquer
coisita.
A.C.: E por essas idades, também assentou praça, não foi?
A.F.J.: Sim, assentei praça entre
os dezanove e os vinte anos, na Artilharia 1 em Abrantes. E, depois de lá estar
um ano na Artilharia 1, passei para o regimento da Cavalaria 4, para Belém, e
acabei o meu tempo na Cavalaria. Eu fui impedido de um tipo que, se eu fizesse
o que ele me dizia, hoje tinha uma vida melhor. Ele era capitão, e pediu-me
para ir para África mais ele, e eu a dar para trás: “Não, não vou, eu faço
muita falta aos meus pais, não posso ir”. E ele voltava: “Você vai mais eu,
está lá um ano mais eu e, depois de um ano, nós vimos e eu arranjo-lhe um posto
onde você quiser, ou para a polícia ou para a guarda, ou para guarda da
floresta lá para a terra onde você fica” – havia uma mata aqui perto, uma mata
grande, do Estado, que tinha guarda e tudo.
«Ele era muito meu amigo, tirou-me
do quartel e fui viver para a casa dele, era lá que eu comia e dormia, quer
dizer, eu até me esquecia que andava na tropa. E depois, um dia, ele disse-me:
“Ó Faustino, se tu quiseres uma licença para ires á tua terra ver os teus pais
e fazeres o que quiseres, diz-me, que eu dou-ta!”. E passou-se uns tempos, e eu
namorava lá uma rapariga que se chamava Júlia e era daqui. A casa onde nós
vivíamos era na Gomes Pereira, e eu estava do lado dessa rapariga, do lado de
cima mas no mesmo prédio, e eu andava a namoriscá-la. E eu pedi a licença ao
capitão e vim para a terra de licença, e o meu capitão, eu só mais tarde soube,
falou assim para a Júlia, para a rapariga que eu namoriscava, falou de uma
varanda para outra: “Ó Júlia, não queres saber? Olha que o teu Faustino foi
agora de licença para se casar!”, e ela respondeu-lhe: “Não me diga, está a
brincar comigo?” e ele voltou: “Não estou a brincar, menina Júlia, ele até me
convidou para o casório, mas não pude ir”. Essa conversa foi a um Sábado. Ela
despediu-se na casa onde servia e no outro dia estava na Macalhona, em casa dos
meus pais, a perguntar por mim, ela e mais uma vizinha. Eu estava lá dentro,
mas a minha mãe, que se chamava Gertrudes, não gostou dos modos da rapariga e
disse que eu não estava, mas elas não saíram dali, elas tinham-me visto a ir
para casa, eu vinha de Alfeizerão a pé, e elas vieram na minha cola, mas
perderam-me de vista porque vim para casa por atalhos que elas não conheciam. E
nessa casa dos meus falecidos pais, havia assim uma janelinha para as
traseiras, e foi por ali que eu fugi.
«Aquilo foi um sarilho. Eu andei
furtado aos gatos, de um lado para outro, mas daí a poucochinhos dias ela
encontra-me e pergunta-me: “Então? Ias-te casar e não dizias nada?”. “Não ia
nada – disse-lhe – nunca pensei nisso”, e ela a fazer mais perguntas e a querer
zangar-se. Então, eu virei-lhe a barriga das pernas e, pronto, nunca mais a vi!
Histórias como esta, aconteceram-me muitas…
A.C.: Não foi quando o senhor estava na tropa, que mataram o Sidónio
Pais?
A.F.J.: Foi sim. E não estava longe
quando o mataram, para aí a uns cinquenta metros de distante. Mataram-no na Rua
da Prata, ele ia do Rossio para cima com um grande acompanhamento de carros, e
ele ia no meio, bem, não ia bem no meio, ia um pouco mais à frente. E depois,
estavam lá treze homens preparados para o matar. Um era um rapazinho, e foi
quem o matou, tinha uns quinze ou dezasseis anos, acho que ainda não tinha os
dezasseis feitos, era um rapazinho do Algarve [ii],
estive muitas vezes á conversa mais ele. E depois, eu ia do trabalho, e vinha
aquele grande acompanhamento de carros para cima, vinham devagar, e deviam ser
umas onze horas da noite.
A.C.: O senhor ia à civil? Não estava fardado?
A.F.J.: Não, estava tudo á civil, e
ele também. O Sidónio ia visitar umas tropas ao Porto, que tinha um irmão que
era alferes e que estava a comandar as tropas no Porto. E depois, eram treze
homens que andavam ali para o apanhar. Eram treze, se o primeiro não o matasse,
tentava o segundo, se este não conseguisse, ia o terceiro…até ao número treze.
Algum deles havia de o conseguir, e tinha que ser mesmo. O primeiro não o
matou, teve tanto medo, mandou-lhe dois tiros mas não o matou, o carro andou
para a frente um bocadinho, e o número dois, que era esse rapazito do Algarve,
pôs o pé no estribo do carro, encosta-lhe uma pistola e manda-lhe um tiro. O
Sidónio morreu logo.
A.C.: E prenderam o homem?
A.F.J.: Ao primeiro, mataram-no
logo, as tropas meteram-lhe dois sabres, um de frente e outro da retaguarda, e
ficou espetado que parecia um sapo. O segundo, não o conseguiram matar, foi o
alferes que não o deixou matar, cruzou os braços por cima desse rapazinho, e
ainda levou umas espadeiradas em cima dos braços, mas não o deixou matar. Penso
eu, cá no meu entender, que esse homem queria descobrir aquela coisa toda, mas
a verdade é que não se descobriu nada.
A.C.: Aquilo causou muito burburinho naquela altura?
A.F.J.: Não senhor, aquilo não deu
quase mais nada, só houve a morte do Sidónio e desse primeiro que o tentou
matar. O número dois escapou como lhe disse. Depois, aquilo passou, e levaram
os corpos, não sei para onde, talvez para alguma morgue. E assim é que foi,
tinham que o matar. E o rapazito algarvio ficou preso, ali diante do Terreiro
do Paço, numa ruazita, ali é que o meteram, numa prisão baixa, e a gente ia a
passar, e quem quisesse falar com ele, os guardas deixavam. Eu, um dia, fui lá,
porque já o conhecia, e perguntei-lhe: “Olha lá, você, porque é que você pensou
numa coisa dessas?”. E ele respondeu-me: “Foi uma ideia, foi uma ideia que eu
tinha…”. E, naquela altura, não soube mais o destino que aquele rapaz levou, se
lhe deram a liberdade, se lhe deram outro destino…[iii]
A.C.: E o senhor, enquanto foi militar em Lisboa, não assistiu a mais
nada de especial?
A.F.J.: Sim, houve uma reviravolta
muito grande. Estava lá no meu quartel, eram umas dez horas da noite e estava
tudo deitado, quando entram por ali uns oficiais a gritar: “Levantem-se!
Levantem-se!”. Estávamos quase todos despidos, eu visto-me e, quando chego á
porta da caserna, encontro um cabo que me mandou lá para fora, e avisou que
andava uma revolução muito grande na serra de Monsanto. E andava mesmo. Havia
uma grande falsidade naquilo. A tropa, uns queriam um partido, outros queriam
outro, e uma tropa, que era a Artilharia 1, estava formada lá em cima, no alto
de um cabeço, perto de Campolide. Estavam lá formados e mostraram uma bandeira
branca para a tropa que vinha de baixo, quer dizer, que era de paz. E a tropa
de baixo, que era onde eu estava, começa a subir o cabeço, e os oficiais da
Artilharia 1 mandam abrir fogo sobre nós. Aquilo é que foi matar homens como
quem mata coelhos. Eu ia a cavalo, e esse capitão que eu falei há pouco e que
era meu patrão, esse fulano era veterinário, e nós dois íamos á retaguarda da
companhia, e se acontecia alguma coisa a algum animal, ele é que via e dizia se
tinha cura ou não, e se não tivesse cura, tinha de ser abatido. Nós íamos á
retaguarda, e ia connosco também um rapaz que era de Alfeizerão e que eu
conhecia e ainda era meu primo. Bem, nós subíamos o monte, e aqui caía um
homem, acolá outro, não se viam senão cavalos sem cavaleiro a fugir por aquela
serra abaixo; e aí eu disse para esse meu capitão: “Olhe, meu capitão, eu
fujo!”, e ele diz-me assim: “Tu foges, e eu fujo também!”. Fugimos ambos. Ao
virarmos os cavalos para trás, eu vejo cair esse rapaz que era de Alfeizerão –
esse rapaz era da família dos Baianos, que dessa família de Alfeizerão
parece-me que se extinguiu quase tudo. A esse rapaz, passou-lhe um tiro pelo
pescoço e ele caiu do cavalo, morto. E no dia seguinte, depois daquilo acabar,
iam aqueles carros cheios de gente, uns mortos, outros feridos, com pernas
partidas ou feridos das balas; quer dizer, baldeavam-nos para dentro daqueles
carros, e era só gritos, tantos gritos, que até metia aflição [iv].
A.C.: Quantos anos
tinha quando foi isso na serra de Monsanto?
A.F.J.: Eu assentei praça de dezanove para vinte anos,
estive um ano em Abrantes, depois, em Belém, estive dois anos, por isso era
para ter os meus vinte e três anos.
A.C.: Deixemos o
tempo da tropa, que há coisas que até custa lembrar. Diga-me uma coisa, nos
seus tempos de rapaz, como é que se divertiam aqui na zona? Havia bailes?
A.F.J.: Havia, sim senhor. Naquele tempo, havia bailes em
todo o lado, às vezes, três e quatro na mesma noite. Em S. Martinho, os bailes
eram naquele sítio cá em baixo, onde estão os baloiços das crianças, e a gente
ia até lá, e as nossas máquinas para irmos até lá, eram os nossos pés.
«As raparigas, naquele tempo, eram muito diferentes. Se os
antigos como eu cá voltassem, morriam logo outra vez, porque isto está tudo
virado. Nós íamos para a igreja de Alfeizerão, porque éramos aqui da freguesia,
e levávamos todos uns bordões, uns grandes, outros mais pequenos, e íamos para
a missa e, que o Senhor me perdoe, a gente ia, ajoelhávamos, e púnhamos aqueles
grandes paus no meio das nossas pernas, por malandrice. Depois, acabada a
missa, as cachopas juntavam-se ao pé da igreja, e a gente começava a meter-se
com elas pelo caminho. Elas usavam umas saias que eram de lã pura de ovelha,
não era uma lã falsificada; elas usavam aquelas saias de uma forma que elas
vinham de rojo, vinha sempre com um palmo ou mais de rojo. E aqueles que vinham
mais perto delas , elas começavam a ficar para trás e a gente começava a pisar
a saia, e pisávamos uma vez e outra vez a saia e, pronto, aí estava a conversa
pegada. E depois, formavam-se aqueles pares no fim da missa, que era para, á
noite, se ir ao baile.
«Depois, voltávamos a casa, para a janta e para descansar um
bocado, e íamos ter com elas. Aqueles que namoravam há mais tempo, às vezes,
até ceavam por lá, em casa dos pais delas. Íamos todos para o baile,
bailávamos, tocavam uns, outros cantavam. Havia um gajo lá, que era um espanto
a tocar concertina, lugar onde ele tocasse era sempre um arraial de povo á
volta. Aquele era o nosso divertimento. Havia aqueles bailes, uns aqui, outros
além. E o fardamento então delas, era digno de se ver, eram saias de lã - todas
as casas tinham ovelhas, umas tinham vinte, outras trinta ovelhas, e aquela lã
era tosquiada, e havia uns cardadores, o homem vinha aí cardar e tinham umas
coisas que chamavam eles as cardas, que eram mais ou menos como os meus dedos
virados para cima, como se fossem gradas; e tinham uma passadeira, que enfiavam
aquilo nas mãos, e aquilo tinha muita carda, e depois o cardador passava aquela
lã pelas gradas, e depois passava uma carda pela outra em cruz, que aquela lã
ficava toda lisinha, toda fiadinha, que era um luxo. Acabava de fiar uma e
punha numa pardazita e ia cardar outra, até que fiava uma parda grande de lã. E
depois, havia umas mulheres, não eram todas, que sabiam fiar aquilo, cosiam
aquela lã, e depois daí é que elas faziam as camisolas, coletes, saias, enfim,
o que elas queriam.
A.C.: E também chegou
a ir aos bailes à minha terra, a Famalicão?
A.F.J.: Então não ia!? Famalicão, S. Martinho, Rebolo,
Raposos, corria isso tudo. Em S. Martinho, havia assim uns rapazes ricos que
davam um charuto àqueles que bailassem melhor, e eu era sempre dos que bailavam
melhor. Era eu, era um rapaz de Alfeizerão que morreu há pouco tempo nas Caldas,
que era o António Rocha, e era um outro, que era meu primo, e que era filho de
uma Rosária que morava em Alfeizerão. Em S. Martinho, nós éramos os campeões
naquilo e, quando acabava o baile, eles davam um charuto a cada um de nós, e
nós ficávamos todos vaidosos, todos inchados.
«Andávamos ali em S. Martinho, depois o baile acabava lá
pela uma hora da manhã, e íamos para a Macarca, na Macarca ouvíamos falar de um
outro baile, por exemplo, nos Raposos, e lá íamos nós para os Raposos,
quilómetros e quilómetros, sempre a pé. Entretanto, começavam os galos a
cantar, começava aquilo a ser dia, e voltávamos para casa; e eu chegava a casa
com a roupa já enxuta, que ela enxugava-se no corpo; tirava aquela roupa e
vestia a roupa da semana para ir trabalhar para a Quinta. Numa ocasião,
deitei-me em cima da cama, já vestido com a roupa de trabalho, e adormeci. A
minha mãe chamou-me, mas eu não acordava, e então, ela agarrou-me pelas pernas
e puxou-me até eu cair no chão aos pés da cama. E lá fui eu a correr com os olhos
meio abertos, meio fechados, por aqueles atalhos até á Quinta, para trabalhar.
A.C. E o seu
casamento? Quer falar-me dele? Havia, com certeza, muita diferença para os
casamentos de agora…
A.F.J.: Muita diferença mesmo. Naquele tempo, era uma vida
desgraçada, até na boda. No meu casamento meti quarenta pessoas e, até á noite,
apareceram muitos rapazes amigos. Naquele tempo, havia um uso, a gente acabava
de cear e depois fazia um bailarico, por aqui e por ali. E vinha muita gente ao
baile, a gente dava um petisco, e eles davam doze vinténs. Casava-se sempre ao
Sábado, e as pessoas ficavam até Domingo. E depois, a gente ia casar, e naquele
tempo havia sempre uma mulher que fazia a comida. Havia umas tigelas grandes
com umas asas, umas tigelas muito grandes, e depois as mulheres enchiam aquelas
tigelas com sopa até ao meio, e do meio para cima, acabavam de encher com
repolhos. A tigela ficava uma aguadela de cebola e repolhos. Juntávamo-nos
cinco ou seis pessoas á volta de cada sopeira daquelas e comíamos, comia quem
queria, mas não aparecia mais nada a não ser aquilo. A carne era racionada, e
havia lá um tipo que estava de cozinheiro nesses meus noivos, e enquanto a
gente comia a sopa, ele chegava á porta e dizia: “Vamos, rapazes, vocês comam e
bebam, que está aqui carne que ainda se não comeu” – e mostrava os dedos das
mãos dele.
A.C.: E, nesse tempo,
matava-se algum gado para os casamentos?
A.F.J.: Ás vezes, nalguns casamentos, matavam-se uns
carneiritos, um ou dois; porque ninguém matava uma vaca naquele tempo. Daí para
cá é que a coisa começou a melhorar.
A.C.: E doces? Havia
doces nesses casamentos?
A.F.J.: Não senhor, não havia doces nenhuns!
A.C.: Quantos anos
tinha quando se casou?
A.F.J.: Vinte e sete.
A.C.: E filhos,
quantos teve?
A.F.J.: Filhos, só tenho um, mas tenho quatro netos, um
rapaz e três raparigas, todos casados.
A.C.: O senhor ainda
vai á feira em Alfeizerão.
A.F.J.: Vou, e gosto de ir.
A.C.: Diga-me uma
coisa, como é que era a vida aqui em Alfeizerão nesses tempos? Havia festas?
A.F.J.: Festas em Alfeizerão, simplesmente, havia só o Santo
Amaro, não havia mais nada, fazia-se lá uma festazita ás vezes, mas era uma
coisa muito provisória…
A.C.: E no S. João não se fazia nada?
A.F.J.: Fazia-se só uma fogueirita ao pé do coreto; e não
havia ainda lá o coreto, era naquele sítio ao pé da capela.
A.C.: E o senhor
recorda-se de como era a capela de Santo Amaro antigamente? Era igual á de hoje
ou havia diferenças?
A.F.J.: A capelazita de Santo Amaro era de outra forma,
tinha mais coisas lá dentro, e era mais pequena; agora está muito modificada.
A.C.: Tem memória se
a capela de Santo Amaro tinha algum gradeamento á volta?
A.F.J.: Não senhor, não tinha. No meu tempo, nem havia
aquelas casas por ali, não havia a casa do Bernardo, nem a Casa do Povo, não
havia nos arredores nenhuma casa gerada. Direito aos Casais Norte também não
havia nada. Lembro-me de um moinho de vento que havia no meio da vila e que
depois foi escangalhado. Ali onde está o Centro Social de Alfeizerão, aquilo
era um baldiozito que o padre João de Matos Vieira comprou para fazer uma vacaria. E
depois, é que aquilo se começou a povoar de casas. Alfeizerão era muito mais
pequena, nem se compara nada.
A.C.: E os casais, Casal Pardo, Casal Velho,
Macalhona? Eram muito menos famílias, não?
A.F.J.: Sim, poucochinhas. Aqui a área da Macalhona tem mais
casas que o Casal Pardo, o que acontece é que o Casal Pardo está mais num
monte, e aqui está tudo muito mais espalhado, começa ali á beira da estrada, e
vai por aí abaixo até ao rio.
A.C.: E aqui na Macalhona
dão algum nome diferente ao rio?
A.F.J.: Damos, sim senhor. Nós aqui deste lado, como havia
naqueles tempos uns Invernos muito grandes, estavam noites e semanas a chover a
quase toda a hora, e aquilo fazia umas enchentes muito grandes que cobriam aquelas
várzeas todas que nós tínhamos ao lado do rio; não se via nada, parecia um mar
d’água. E por causa dessas várzeas que levavam a água às terras, nós, já
naquele tempo, chamávamos-lhes o “rio das várzeas”. Passa-se mais para baixo, e
chamam-lhe o “rio de Sapeiros”, depois, “rio do Casal Velho”, e vai assim até
Alfeizerão.
A.C.: E as pessoas
destas terras – Macalhona, Alfeizerão, Casal Pardo, S. Martinho do Porto… - as
pessoas davam-se bem?
A.F.J.: Não, não se davam sempre bem, e nesse assunto fui
até um bocadinho castigado. Havia grandes zaragatas naquele tempo, quer dizer,
aquilo era uma selvageria. Nós dávamos tiros uns nos outros, batíamos uns aos
outros, mandávamos pedras. E eu, não é ser gabarola, mas nesta área aqui por
cima, eu era um galozito, e todos me tinham um bocado de respeito. Andavam
então por aí uns moços do Gaio – os tipos do Gaio tinham a fama de desordeiros
e chamavam-lhes Gaios arrulhudos – e vieram a uma baile que houve aqui perto da
Macalhona, e foi aí que nos desavimos com eles. Houve uns murros lá no meio do
baile, andávamos a bater uns nos outros, e um desses do Gaio puxa de uma
pistola e começa aos tiros a nós. Ainda tenho uma costura num ombro de uma das
balas. Mas aquilo não ficou por ali, nós estávamos mais ou menos escondidos,
alguns feridos, e fomos indo, fomos indo, e a zaragata continuou e ficamos
todos marcados. E esses homens do Gaio, quando foi no outro dia, foram
incriminar a gente a Alcobaça. E havia ali no Casal Pardo um José Pedro que era
da família desses do Gaio, e o José Pedro falou comigo e disse-me que, se eu
quisesse, ele arranjava um acordo entre nós e os do Gaio e nós pagávamos uma
quantia para não irmos á justiça, que então iríamos pagar muito mais. Eu
concordei, e os do Gaio exigiram á gente nove libras cada um. Mas eu não tinha
nove libras. O meu pai tinha-me deixado criar dois bezerros, que tanto que eu
gostava daqueles dois bezerros, e eu tive de os vender para pagar as nove
libras, isso foi para mim um desgosto, um grande desgosto.
«Havia muitas zaragatas, foi nesse baile, depois, foi
noutro, logo a seguir, na Bica. Havia rixas em quase todos os bailes, que
aquilo quase parecia promessa. No Casal Velho houve outra zaragata muito
grande, fizeram lá um baile, e estava lá uma rapariga do Vimeiro que estava a
dançar com um vizinho meu. Havia nesse tempo um costume, não sei bem se há
agora, que é quando um par está a dançar, vem outro rapaz, bate as palmas, e a
rapariga tem de mudar de par. Ora, quando esse meu vizinho estava a dançar com
a moça do Vimeiro, vem um rapaz da terra, bate as palmas, mas o meu vizinho não
lhe quis entregar o par. Os dois começaram a discutir, e esse rapaz do Vimeiro,
mais outros, deram porrada nesse meu vizinho. Então, eu, mais um rapaz ali da
Cadarroeira que era da família dos Negros Maus – o Augusto Negro Mau era pai
dele – virámo-nos a esses tipos e brigamos, brigamos, quer dizer, fomos de
longe, da taberna, a dar porrada neles. Esse Negro Mau era todo ruindade, aquilo
era só nervos, porque, homem que ele agarrasse, nunca mais o largava. Foi indo,
foi indo, e o Negro Mau apanhou alguns desses tipos na cova de um barranco e,
donde eu estava, só lhe via a cabeça, porque ele estava em cima desses rapazes
a descascá-los. E eles, quando viram que aquilo ia para um fim, começaram a
chorar e a pedir: “Ó rapazes, não matem a gente! Não matem a gente!”. Nós
paramos, e fomos todos para a taberna, e fomos curá-los com aguardente. Aquelas
feridas, era só sangue a escorrer pela cara abaixo. Nós deitávamos aguardente
nas feridas e, quando nós víamos que o sangue corria mais devagar, dávamos-lhes
um copo de aguardente para as dores.
«Doutra vez, em Alfeizerão, houve tão grande porrada que nós
– eu não, porque tinha muita família em Alfeizerão para me acoitar – mas
vizinhos meus, que andavam a fugir dos de Alfeizerão, galgaram o muro da Quinta
do senhor José Augusto para dentro, e correram por aqueles campos fora. Se eles
não saltam lá para dentro, os de Alfeizerão tinham-nos morto a todos.
«Naquela vida, a gente divertia-se mas passava muitos
tormentos. E o trabalho nas Quintas…sofria-se coisas…que eu sei lá!
A.C.: O senhor, se
pensar na sua vida, do que foi até agora, se pudesse voltar atrás, fazia a
mesma coisa que fez, ou modificava alguma coisa?
A.F.J.: Não modificava muito…
A.C.: Fazia a mesma
coisa que fez?
A.F.J.: Não senhor, acho que não, se pudesse, deixava a
outra vida que comecei, a daquele tempo, e virava-me para esta, que é melhor.
A.C.: Obrigado por
partilhar connosco essas memórias, senhor Faustino, e que Deus lhe dê saúde
para continuar com a sua família e contar-lhes as suas histórias.
A.F.J.: Obrigado!
[ii] O único
incriminado pela morte de Sidónio Pais, o que lhe deu o tiro fatídico, foi José Júlio da Costa.
António Faustino Júnior não o refere pelo nome, mas estivera muitas vezes à
conversa com ele, e chama-o de “algarvio”, ainda que José Júlio da Costa tenha
nascido em Garvão, Ourique, no Baixo Alentejo. José Júlio da Costa tinha vinte
e cinco anos quando alvejou Sidónio Pais, encontrando-se este na Estação
do Rossio, prestes a embarcar para o Porto.
[iii] José
Júlio da Costa morreu em 1946 no Hospital Miguel Bombarda. Esteve preso desde
1918, sem nunca ter sido julgado.
[iv] Os
combates que Faustino refere, aludem à tentativa de restauração monárquica de
1919, com sangrentos combates em Monsanto e Ourique. Os monárquicos, chefiados
pelo capitão Júlio da Costa Pinto, refugiam-se no Forte de Monsanto, onde
hasteiam a bandeira da monarquia na manhã de 23 de Janeiro. A tomada de
Monsanto pelos republicanos, na qual Faustino participou, ocorreu no dia
seguinte, 24 de Janeiro, com militares e populares armados sob o comando do
tenente-coronel Ernesto Maria Vieira da Rocha. A reconquista republicana do
sítio, a “Escalada de Monsanto” saldou-se em 39 mortos e 330 feridos (Coimbra,
Artur Ferreira, “Paiva
Couceiro e a Contra-Revolução Monárquica (1910-1919)”, tese de mestrado,
Universidade do Minho, Braga, 2000). As forças monárquicas em Monsanto contavam
com “frações da Cavalaria 4 e 7”, com os regimento da Artilharia 1 e 30, entre
outros grupos militares e civis (Coimbra, op.cit.)